

Eutanásia: Um enfoque ético-político |

O paciente que vai morrer - direito de saber a verdade |

Eutanásia: Viver bem não é viver muito |
|---|
 Índice
Índice![]()


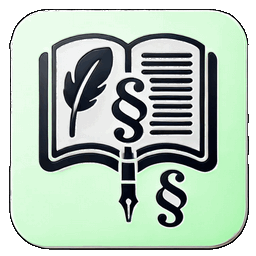 Artigos
Artigos![]()


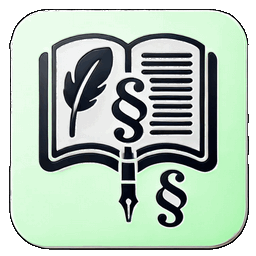 Artigos sobre eutanásia e fim da vida
Artigos sobre eutanásia e fim da vida![]()

 O paciente que vai morrer - direito de saber a verdade
O paciente que vai morrer - direito de saber a verdade





![]()
"
A medicina atual, na medida em que avança na possibilidade de salvar mais vidas, cria inevitavelmente intricados dilemas éticos que permitem maiores dificuldades para um conceito mais ajustado do fim da existência humana.
Desse modo, disfarçada, enfraquecida e desumanizada pelos rigores da moderna tecnologia médica, a morte vai mudando sua face ao longo do tempo. A cada dia que passa maior é a cobrança de que é possível uma morte digna e as famílias já admitem o direito de decidir sobre o destino de seus enfermos insalváveis e torturados pelo sofrimento físico ou emocional, para os quais os meios terapêuticos disponíveis não conseguem atenuar. O médico vai sendo influenciado a “seguir os passos dos moribundos” e a agir com mais “sprit de finesse”, orientado por uma nova ética fundada em princípios sentimentais e preocupada em entender as dificuldades do final da vida humana; uma ética necessária para suprir uma tecnologia dispensável. Neste instante, é possível que a medicina venha rever seu ideário e suas possibilidades, tendo a “humildade” de não tentar “vencer o invencível”.
Apesar do avanço da ciência, se auscultarmos mais atentamente a realidade sociológica atual nas comunidades de nossa convivência cultural, certamente vamos entender a dificuldade e a profundeza do tema. Casabona , sobre isso, afirma que “tem de se deixar assentado que a realidade se apresenta com uma complexidade muito superior, que dificulta a valorização da oportunidade da decisão a tomar. Afirmações como ‘incurável’, ‘proximidade de morte’, ‘perspectiva de cura’, ‘prolongamento da vida’, etc., são posições muito relativas e de uma referência em muitas ocasiões, pouco confiáveis. Daí a delicadeza e a hesitação necessárias na hora de enfrentar-se com o caso concreto”.
Definir paciente terminal não tem sido tarefa tão fácil como aparentemente pode dar a entender. Inclusive a expressão terminal, no presente momento, é complexa e arriscada, porque um paciente portador de uma enfermidade de evolução fatal e grave pode, em determinados instantes, voltar às suas atividades, como, por exemplo, os portadores de neoplasias mais severas que têm uma sobrevida estimável – às vezes por tempo prolongado, graças ao avanço vertiginoso das terapêuticas hoje empregadas. Seu conceito, portanto, é impreciso, até porque a própria vida já é por si mesma terminal.
Mesmo assim, a tendência é considerar paciente terminal aquele que, na evolução de sua doença, não responde mais a nenhuma medida terapêutica conhecida e aplicada, sem condições portanto de cura ou de prolongamento da sobrevivência, necessitando apenas de cuidados que faculte o máximo de conforto e bem-estar, conforme estabelece a Declaração de Veneza, adotada pela 35ª Assembléia Geral da Associação Médica Mundial, em outubro de 1983. Segundo Holland é terminal aquele paciente que apresenta duas características fundamentais: a da incurabilidade e a do fracasso terapêutico dos recursos médicos.
Ninguém discute hoje os benefícios que a tecnologia moderna vem trazendo na preservação, erradicação e cura das doenças e na reversibilidade da expectativa ante as condições mais adversas. O que se discute no momento é o mau uso desses recursos, com suas implicações éticas, legais e econômicas, evitando-se que ela se transforme num instrumento de exploração ou num mecanismo de sofrimento inútil e de resultados ineficazes.
Mesmo que a morte faça parte da vida de cada um de nós, este instante é muito pessoal e único. Por isso, já se defende a idéia de que temos o direito de viver em toda plenitude a última etapa de nossa existência, apesar dos sofrimentos e das limitações.
Nunca podemos esquecer que o conteúdo e o significado da fase terminal da vida de um ser humano – a expectativa da morte iminente, o lugar onde ele se encontra, a agonia, o sofrimento e os rituais que precedem a sua morte -, estão intricados nos valores basilares que ele crê, e nos costumes e tradições que envolvem este momento na cultura a que ele pertence.
Há quem considere admissível, diante de um paciente salvável, prevalecer a preservação da vida sobre o alívio do sofrimento, mesmo com algum constrangimento do paciente. E diante de um outro em fase de morte inevitável, quando a cura não é mais possível e quando seu estágio de vida é final, prevalecer o princípio do alívio do sofrimento sobre o da preservação de uma existência precária, por considerar que qualquer tratamento mais agressivo traria certamente sofrimentos inúteis. Em suma, o ideal será sempre harmonizar o discurso moral com a conduta técnica, pois eles não são inconciliáveis. Assim, o maior problema não é a morte, se ela é justa e digna. O problema que deve ser enfrentado com maior empenho é a qualidade da vida e os riscos em torno dela. Considera-se que a morte é digna e justa quando ela corresponde às expectativas de prognóstico e de decoro que merece a pessoa humana a que ela sobrevém. Caso contrário ela será injusta e indigna.
Também é importante que se defina o que significam procedimento ordinário e procedimento extraordinário. Se um paciente terminal necessita de uma traqueostomia ou de uma alimentação parenteral, isso deve ser feito por tratar-se muito mais de cuidados ordinários do que de tratamento. Por outro lado, se um doente descerebrado necessitar de uma série de diálises renais, é evidente que esse procedimento merece outra forma de discussão. Deve ficar bem claro que o conceito de ordinário e extraordinário deve estar relacionado com o estado do paciente e não com as condições da disponibilidade médico-hospitalar. O medo que faz é existir hoje ou amanhã uma relação de procedimentos escrita considerando o que seja ordinário ou extraordinário. E assim chegaríamos à situação em que alguém viesse considerar uma hidratação ou uma traqueostomia como recurso despropositado.
Deve-se dizer a verdade ao paciente que vai morrer? Eis a questão crucial. Não dizer era a regra geral. A decisão mais simplista era nunca proclamar a verdade, pois raramente esse impacto deixaria de causar sério mal-estar ao paciente. Atualmente, mesmo estando ainda as opiniões divididas, tanto entre familiares como entre os médicos, no que se refere à informação da gravidade do diagnóstico ou da morte próxima, há uma tendência cada vez maior de se dizer sempre a verdade, principalmente naqueles casos de pacientes lúcidos e equilibrados que pedem informações verdadeiras. Para os defensores dessa idéia, a mentira é sempre perniciosa, qualquer que seja a circunstância, porque priva o indivíduo do seu direito mais elementar: o de saber sua própria verdade, algo tão importante na vida de cada um.
Pessini afirma que “num passado não muito distante, acreditava-se que quanto menos o doente soubesse de sua condição, maiores chances teria de recuperação. Hoje estamos frente a uma forte tendência de abertura e honestidade com os pacientes a respeito de sua condição”.
A verdade é que o paciente dito terminal quase sempre sabe ou desconfia de sua real situação, ainda que não possa ter a idéia precisa e completa do seu mal. Seus próprios sinais e sintomas denunciam por eles mesmo. Muitas vezes, por isso, o silêncio não traz alívio ou expectativa. Ao contrário: causa-lhe ansiedade e desconforto. Mais: o direito de saber a verdade, para com isso determinar-se quanto aos seus interesses materiais ou afetivos, não é o direito mais significativo: mas o direito que ele tem de saber a sua verdade, a consciência de si mesmo e a possibilidade de dar rumo ao seu destino.
Entre os mais diversos direitos do paciente está o de saber a verdade sobre o seu diagnóstico, prognóstico, riscos e objetivos do tratamento. Hoje, em grupo ou isoladamente, os pacientes já começam a levantar questões que se conflitam muitas vezes com a postura paternalista do exercício médico (paternalismo é a atitude coativa do ato médico como justificativa de o profissional considerar sempre o que é bom para o paciente). Muitos até já admitem que a não revelação do que necessariamente devem saber constitui-se um golpe aos seus direitos fundamentais (ver Declaração de Lisboa, aprovada pela 34ª Assembléia Geral da Associação Médica Mundial, Portugal, setembro de 1981, sobre “os direitos do paciente”). Podemos admitir que em certas ocasiões faltar com a verdade para quem está morrendo significa subtrair-lhe a manifestação mais resolutiva da liberdade e uma forma de tratar-lhe com simples objeto.
Assim, alguns documentos nesse sentido, como a Carta dos Direitos do Paciente, o Projeto de Libertação dos Doentes Mentais e a Declaração dos Direitos das Pessoas Mentalmente Deficientes, defendidos pelo Comitê Médico dos Direitos Humanos, pelo Serviço Legal de Assistência dos Pacientes e pela Assembléia Geral das Nações Unidas, respectivamente, defendem a informação minuciosa sobre os problemas do paciente, detalhes completos para facilitar certas tomadas de posição e informações circunstanciadas à família dos casos mais dramáticos, quando os pacientes não souberem ou não puderem falar por si.
Isto se refere a todos os pacientes, logo refere-se também ao paciente terminal.
É claro que muitas daquelas decisões já vem sendo respeitadas, como também ninguém discute que algumas das circunstâncias mais cruciais ainda sejam da iniciativa do médico. O certo é que o direito de saber a verdade começa a ser mais e mais exigido, de forma insistente, por enfermos e familiares, porque eles sabem que os médicos, não muito raro, mentem ou contam meias verdades, e que tais fatos têm criado uma barreira de desconfiança que os isola e maltrata ainda mais. Para estes a “mentira piedosa”, além de uma fraude, não encerra nenhum critério moral ou científico. Por outro lado, existe acordos entre familiares e médicos, no sentido de não passar informações verídicas, dentro de uma conivência tida como verdadeira “conspiração do silêncio”.
No entanto, se o médico sabe que a informação pode trazer algum dano ao paciente, a comunicação deve ser feita aos seus familiares ou responsáveis legais, para que eles tomem as medidas e as atitudes que melhor lhes convier. Assim recomenda o artigo 59 do Código de Ética Médica vigente. Como se vê, a comunicação tem de ser feita e, como tal, neste particular, a autonomia do médico inexiste ou está muito limitada.
E como dizer essa verdade? É muito custoso estabelecer regras e limites neste contexto e o fato é que ninguém tem uma receita de conduta neste particular. Não há quem não tema morrer e quem não se assuste com a convicção de sua morte, principalmente quando ela é prematura. O certo é que dizer a verdade, por mais necessária que ela seja, não é sinônimo de relato frio e brutal. A verdade pode ser dita com sinceridade e compaixão, entremeada de esperanças e temperada de otimismo, como quem tenta reacender uma chama. Quem ouve uma palavra de esperança é como quem escuta a voz de Deus. Em suma: uma verdade sempre amparada pela caridade e narrada de forma gradual. Nunca como um golpe abrupto e violento. O fato parece não estar no ato de contar, mas na maneira como se conta a verdade. Para Häring , o fato de informar com cautela, confiança e respeito, tanto para o médico como o paciente, é um evento libertador.
O médico pode mentir? Muitos acham que sim. A mentira piedosa para estes, em certas ocasiões, constitui um instrumento aceitável quando um paciente apresenta sinais de instabilidade emocional.
Sendo assim, qualquer que seja o entendimento da equipe em relação a um paciente terminal, é muito justo que toda conduta seja discutida com a família e, quando possível, com o próprio doente, levando em conta o que é melhor para assisti-lo e para confortá-lo, mesmo sabendo-se que é difícil falar em autonomia do doente terminal, pois sua capacidade de autonomia depende muito do estágio de sua doença e de suas condições psico-emocionais. O que se discute a partir daí é o uso da verdade que se faz necessária a um paciente insalvável, cuja morte é iminente e em favor do qual já se tentou todas as medidas curativas disponíveis. Ou seja, se um indivíduo que enfrenta uma determinada etapa de doença fatal, dizer-lhe a verdade sobre seu estado de saúde e do prognóstico de morte, constitui-se ou não numa melhor opção.
Dentro deste quadro, há uma pungente situação: a da criança enferma terminal, devido o envolvimento dos pais no processo, a necessidade de uma avaliação sobre a compreensão do pequeno enfermo a respeito da morte e as repercussões negativas que podem surgir no seu psiquismo com a comunicação dos profissionais. Entender também que a família da criança terminal é um núcleo de alto risco psicológico, pois a enfermidade dela pode constituir um fator de culpabilidade assimilado pelos pais, assim como a dificuldade de passar algumas informações aos irmãos do pequeno paciente.
É necessário também que a equipe de saúde que cuida da criança enferma terminal possa adequar seu componente cognitivo-emocional à compreensão da morte que ela tem. Essa consciência emocional varia, é claro, com a idade e com o desenvolvimento psicológico de cada uma delas. Como essas crianças são geralmente internadas em hospitais, isso traz muita ansiedade pela separação dos pais e a tendência é elas se sentirem abandonadas e indefesas. Essa é, sem dúvida, a evidência mais dura e comovente que se tem na relação com estes pacientes.
E quanto à criança enferma terminal, deve-se dizer a verdade? Aqui as opiniões são ainda mais divididas. Os que defendem a informação da verdade são unânimes em evitar a sentença fria e brutal da morte, mas são favoráveis que se informe sobre a gravidade da doença e a possibilidade de morte, pois, a partir de certa idade a criança sabe a verdade. Mesmo que ela não tenha condições reais de entender as razões de sua morte iminente, em face de sua incapacidade estrutural de entender tal informação, com certeza isso fará da verdade referida algo menos doloroso do que seria para um adulto.
Mesmo assim, vale perguntar: que vantagens há no fato de se dizer a verdade à criança enferma terminal sobre sua doença, sobre sua gravidade e sobre sua morte? Ela será capaz de entender o alcance de tais informações? Qual o destino que ela dará a essas verdades?
Qualquer que seja nosso entendimento sobre isso é necessário entender que a criança enferma terminal não está impedida de saber sua verdade, levando em conta os fatos que se referem ao seu estado de saúde e a suas esperanças de cura e o esforço no sentido de se obter dela um mínimo consentimento, não pelo fato de se conseguir esse consentimento, mas porque é indispensável respeitá-la como pessoa humana. Todavia, simplesmente dizer que ela vai morrer e dar as costas, sem a habilidade necessária para tais ocasiões, seria simplesmente uma crueldade.
(*) – Resumo de trabalho apresentado no III Congresso Brasileiro de Bioética e I Congresso de Bioética do Conesul, Porto Alegre, 2 a 4 de julho de 2000.
(**) – ex-Professor Titular de Medicina Legal e Deontologia Médica da Universidade Federal da Paraíba.
Incluído em 10/11/2001 12:05:22 - Alterado em 20/06/2022 12:15:37
 Eutanásia: Um enfoque ético-político |
   
O paciente que vai morrer - direito de saber a verdade |
 Eutanásia: Viver bem não é viver muito |
|---|
|
10594
dias on-line   |
Idealização, Programação e Manutenção: Prof. Doutor Malthus Fonseca Galvão
http://lattes.cnpq.br/3546952790908357
|
 Fale Conosco
Fale Conosco