

Genival Veloso de França
Atualmente, o feto não é mais uma unidade intocável. Ele pode e deve, quando necessário, ser considerado paciente, com a prudência e a delicadeza que cada caso exigir.
1. Preliminares
Entende-se por pessoa, na concepção jurídico-civil, todo ser humano dotado de personalidade e possuidora de direitos e obrigações. A existência dessa personalidade civil começa desde o nascimento com vida, embora seja reconhecida uma expectativa de direitos daquele que ainda se encontra no leito uterino. Assim se expressa o artigo 4º do Código Civil brasileiro: "A personalidade civil do homem começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro".
Por nascituro, portanto, entende-se aquele que foi concebido e ainda não nasceu. É o ser humano que está por nascer, já concebido no ventre materno. A lei não lhe confere o titulo de pessoa, mas resguarda-lhe, desde logo, seus direitos futuros, através de medidas que salvaguardem seus inalienáveis interesses. Desse modo, nota-se que não é apenas o recém-nascido que começa a merecer a proteção legal. Aquele que é apenas uma esperança de nascimento tem a proteção de seus eventuais direitos. Isto, sob o aspecto dos direitos civis. No que se refere à ótica do direito público, o Estado coloca o nascituro sob a proteção incondicional, quando sanciona o aborto provocado, fora das situações de antijuridicidade, entre os crimes contra a vida, desde o momento da fecundação até instantes antes do parto.
Por sua vez, personalidade civil é a disposição genérica de exercer direitos e obrigações, como pessoa juridicamente capaz, adquiridos após o nascimento com vida, independente das condições de viabilidade e da qualidade de vida.
Mesmo estabelecendo nossa legislação a personalidade civil do homem após seu nascimento com vida os direitos do nascituro estão protegidos desde a fecundação, existindo como que uma instituição própria e independente, objeto de relação jurídica, fundamentada no respeito à vida humana e numa expectativa de quem vem a ser uma pessoa. Há até os que defendem, com certa lógica, o inicio da personalidade jurídica desde a concepção, baseados em princípios biológicos e morais. Tal teoria concepcionista fundamenta-se na afirmação de que, se o nascituro é considerado sujeito de direito, se a lei civil lhe confere um curador, se a norma penal o protege de forma abrangente, nada mais justo que se lhe reconhecesse também o caráter de pessoa e o considerasse com personalidade juridicamente autônoma. Isso porque o feto herda, transmite, demanda e, sua morte intencional é um crime. A teoria genética admite como ser humano aquele que tem código genético definido, ou seja, a partir da concepção. Os desenvolvimentistas acham que a fecundação, mesmo estabelecendo as bases genéticas, o novo ser necessita de um certo grau de desenvolvimento, e, por isso, a vida começaria da nidação, para outros da formação do córtex cerebral, ou, mesmo, a partir do parto.
2. Considerações em torno da assistência fetal
Atualmente, o feto não é mais uma unidade intocável. Ele pode e deve, quando necessário, ser considerado paciente, com a prudência e a delicadeza que cada caso exigir. Seja em rotineiras transfusões de sangue nos portadores de eritroblastose seja diante das desordens fetais graves. Isso não quer dizer que tenham sido sanadas algumas dificuldades de ordem médica ou certas implicações de caráter ético-jurídico nos seus procedimentos de diagnóstico e de tratamento, e sem esquecer que muitas dessas intervenções ainda são consideradas experimentais. Desse modo, é muito justo que determinados problemas, hoje diagnosticados mais precocemente, sejam tratados com antecedência, quando se sabe que alguns deles não teriam solução posterior, por não se poder mudar o curso de muitas doenças ou malformações.
É claro que tais intervenções intra-uterinas não podem ser intempestivas e contumazes, sujeitas a todo exagero que o "modismo" favorece. O ideal seria que o tratamento se verificasse depois do nascimento. Isso, no entanto, não impede que pediatras, anestesistas, cirurgiões infantis, geneticistas, neonatologistas, obstetras, perinatologistas e ultrassonografistas aperfeiçoem técnicas de diagnóstico pré-natal e meios de tratamento em favor do feto humano. Fica evidente, desde logo, que a assistência ao paciente fetal é da competência das equipes especializadas, onde cada um tem sua específica atuação e a sua devida responsabilidade, principalmente quando o feto apresenta malformações ou perturbações amplas e complexas. Este é o primeiro princípio. O segundo, é que, mesmo sendo uma tarefa de um conjunto de especialistas, essa equipe não pode dispensar a atenção de um responsável de estruturar as ações e avaliar os resultados. E o terceiro princípio é que cada procedimento seja efetuado pelo membro da equipe que estiver mais capacitado de oferecer um melhor resultado para a criança que vai nascer e para a mãe que permite a intervenção.
Além do mais, é preciso levar em consideração outros aspectos, como:
a) A decisão do momento apropriado para intervir. Um dos pontos mais delicados e complexos em torno da assistência fetal é, sem dúvida, o momento exato em que se pode efetuar um certo procedimento médico porque tanto nas condutas de diagnóstico como nas propostas terapêuticas, há de se analisar os riscos da mãe e os riscos do filho que vai nascer. Isso, necessariamente, implica não só numa avaliação clínica e propedêutica, levando em conta o melhor instante da intervenção, mas também, nos aspectos éticos e nas implicações dos direitos da mãe e do feto, de forma equilibrada e capaz de avaliar o risco-benefïcio e as implicações da responsabilidade profissional de todos os envolvidos na assistência do binômio mãe-feto.
Outra dificuldade está no fato desses recursos serem de conhecimento recente, muitos deles tidos como de caráter experimental, decorrendo disso controvérsias e insinuações a cada tipo de intervenção. Algumas condutas de cuidados gerais provam que eles são úteis e outros mais inovadores já são contemplados como tratamentos fetais eficazes e imprescindíveis. Mais recentemente - no fim dos anos 70, concluiu-se que todos esses procedimentos, sejam eles gerais ou específicos, são extremamente úteis quando administrados de maneira procedente. Hoje, pode-se afirmar que, antes de se oferecer qualquer procedimento e m favor da saúde ou do bem-estar fetal, deve-se concordar com os seguintes critérios: 1 - ter sido a doença ou a desordem fetal diagnosticada através dos meios propedêuticos atuais, onde não se exclua a ultrassonografia; 2 - ter conhecimento abalizado da fisiopatologia do mal como entidade considerada e conhecida; 3 - probabilidade de cura e segurança da intervenção em moldes aceitáveis; 4 - discussão da intervenção proposta com médicos não envolvidos e que os pontos de vista opostos sejam apresentados à gestante e aos seus familiares. Além do mais, a obtenção do consentimento esclarecido da mãe ou de seu representante legal e a aprovação pelo Comitê de Ética do Hospital, e que cada caso de tratamento fetal realizado seja discutido sem levar em conta o tipo de resultado.
Outros critérios mais específicos para cada situação irão surgindo com a aquisição de uma maior experiência. Já em 1982, a Fundação Kroc realizava uma conferência chamada de "Gerenciamento do feto com defeito congênito corrigível", constituída de obstetras, cirurgiões, pediatras, ultrassonografistas, geneticistas e bioéticos dos centros mais especializados em tratamento fetal. Procedimentos experimentais e clínicos sobre tratamento fetal foram revistos criteriosamente para avaliar os benefícios potenciais e a adequação das várias formas de intervenção nas doenças poderiam ser tratadas, assim como os problemas que deveriam ser evitados. Os participantes daquele encontro foram unânimes em prosseguir com a troca de informações cooperativas com o propósito de estabelecer um registro de casos tratados e com a formulação de algumas diretrizes a se colocar em prática na seleção de pacientes e de procedimentos cujo fim seja o de trazer à criança que vai nascer uma expectativa cada vez maior de melhoria da sua qualidade de vida.
Daquela troca de informações ainda houve a concordância na realização de encontros anuais e concluíram a respeito de alguns critérios sobre o tratamento fetal, que ainda hoje são aceitos: 1. O feto deve apresentar algo que um exame ultrassonográfico detalhado e estudos genéticos que revelem concretamente alguma anormalidade. 2. a família deve ser corretamente informada a respeito dos riscos e benefícios e deve concordar com o tratamento, inclusive com autorização para prosseguimento de longo prazo para sua necessária eficácia. 3. A existência de uma equipe multidisciplinar que conte com um perinatologista experiente em diagnóstico fetal e de colheita de amostras fetais ou transfusão intrauterina, um geneticista, um ultrassonografista com experiência em diagnóstico de anomalias do feto e um cirurgião pediátrico. Um neonatologista que cuide da criança após o nascimento, uma equipe que concorde com o plano de tratamento inovador e a aprovação de uma comissão institucional de revisão. 4. Deve contar também com a avaliação de uma unidade de obstetrícia de alto risco de cuidados terciários, atenção da enfermagem especializada e intensiva e consultas necessárias às comissões de assuntos bioéticos e psico-sociais.
b) A avaliação dos riscos da mãe e do feto. Como já dissemos, o que justifica o ato médico não é apenas o seu consentimento - mesmo informado, ou a sua existência enquanto fato anormal, mas a sua inquestionável e iniludível necessidade. Além disso, torna-se imperioso em certos casos que se avalie os riscos de uma intervenção, levando em conta a gravidade de cada situação, tanto para a mãe como para o feto.
A primeira coisa a ser feita, neste particular, é a avaliação dos riscos sobre a vida e a saúde da gestante, pois, sem a segurança e o bem-estar da ma triz seria irrelevante qualquer outro raciocínio em favor do feto. Depois dessa avaliação, chegando-se à conclusão de que o risco não existe ou é menor que o mínimo para a mãe, faz-se a avaliação dos riscos sobre a intervenção na criança que vai nascer, cuidando-se não só dos atos que não lhe tragam malefícios, mas também da importância e do alcance do resultado que se quer obter.
É claro que nem sempre é fácil essa avaliação e nem sempre existe uma disposição mais séria para isso. Ora porque os casos apresentam sempre uma margem muito grande de subjetividade e de pontos de vista contrários, ora porque é da natureza humana minimizar as conseqüências quando outros interesses estão em jogo. Mesmo assim, exige-se do médico que conduz o caso, ou do chefe da equipe responsável pelas condutas de intervenção fetal que não se omita dessa avaliação, tão útil e tão necessária sob o ponto de vista médico, e tão significativa nas questões permeadas por conflitos éticos e morais. Pode-se dizer, com certeza, que em toda apreciação onde se pontificam nuanças éticas ou legais, o analista do feito sempre se orienta pelas relações existentes entre os riscos e os benefícios da operação.
c) A relação risco-benefício. A sociedade moderna paga um certo tributo face os benefícios que lhe em presta a tecnologia vigente. Esse é o preço que paga também o paciente pelos mais espetaculares e arrojados avanços que a cibernética oferece à medicina. Não existe médico, por me nos experiente que seja, ou paciente, por mais ingênuo que possa parecer, que não estejam cientes dos riscos gerados na tentativa de se salvar uma vida ou restabelecer a saúde, através desses meios tão poderosos. O mais tímido e discreto ato médico é passível de risco.
A medicina atual nada mais é do que uma sucessão de riscos. O formidável aparato dessa medicina armada e tão invasiva - que transformou os mais tímidos dos clínicos num cirurgião da medicina interna, com seus artefatos endoscópicos -, trouxe para o homem inestimáveis proveitos. Por outro lado, essa nova ordem não consegue evitar que surgissem mais acidentes no exercício da profissão médica. E o pior: não se pode mais abrir mão desse perigo, simplesmente porque não se pode abdicar do que se passou a chamar de "risco proveito".
Mesmo que a relação contratual do médico com o paciente seja um acordo de meios e não de resultados, discute-se muito a responsabilidade do profissional quando esses riscos, mesmo esperados, são desnecessários, pois se entende que aquele resultado danoso poderia ser obtido por outros meios, não se justificando uma exposição de perigo por tão mínimos resultados, mesmo cogitados.
Há momentos, tão delicados, que a possibilidade de risco é tal que o médico passou a omitir-se. Criou-se assim uma medicina defensiva e cercada de muitos meios de justificação. Já se chegou até a dizer que, da mesma maneira como a sociedade é beneficiada pelo progresso a pesar dos riscos, a sociedade deve aceitar as falhas advindas desse mesmo progresso. Não é por outra razão que a medicina antiga, tão espiritual e tão solitária e, também, incapaz de grandes feitos -, era menos danosa simplesmente porque gerava pouco risco.
Ninguém pode ser contrário ao avanço das técnicas em favor do combate às doenças e às desordens fetais. Ninguém seria ingênuo de admitir que muitas não tragam em suas práticas um risco embutido. Isso também não justifica a violência sobre um ser humano, qualquer que seja sua condição, qualquer que seja o seu estágio de vida, qualquer que seja o progresso pretendido. E mais: é necessário que a comunidade seja sempre vigilante e organizada. Primeiro para saber quais são os critérios e quem são as pessoas que podem estar envolvidas em práticas dessa espécie. Em segundo lugar, o mais importante: quem controlará o executante? O fato é que ninguém pode ficar fora dessa responsabilidade, porque estarão em jogo a sorte das liberdades individuais e o destino da condição humana.
d) Os conflitos do binômio mãe-feto. Nas mais diversas formas de intervenção fetal, uma das implicações mais comuns é a recusa da gestante diante de fáticas capazes de favorecer o feto. Se essa recusa é comprovada como uma negativa sobre uma intervenção considerada, até então, como uma prática experimental ou de grande risco, cujos resultados são duvidosos e com probabilidade real de dano para a mãe, considera-se como aceitável a autonomia maternal. No entanto, já começa a ser consenso em muitos países que, o mesmo não seria considerado se se tratasse, por exemplo, da indicação de uma cesariana por placenta prévia, cuja operação seria de indiscutível resultado para o feto.
Com a eficácia, cada vez maior, da intervenção em favor da criança que vai nascer, esses conflitos entre o bem-estar fetal e a autonomia materna tornaram-se mais constantes.A tendência é a autorização do tratamento, no sentido de reduzir ao máximo os riscos e a irreversibilidade das desordens fetais, como a cesariana diante de um sofrimento do feto. Em casos como esse, a recusa da mãe não vem sendo aceita pelos tribunais. Do mesmo modo as transfusões de sangue em benefício do feto tem sido de imposição quase unânime.
O dever maternal de evitar danos ao feto não pode ser descartado como um imperativo de ordem moral. Todavia, a partir do momento em que se amplia mais e mais o direito ao aborto, com justificativas ou sem justificativa nenhuma, maiores são os argumentos de uma certa corrente de opinião em favor da recusa da gestante e da desobrigação dela em favor do feto. Por outro lado, muitos afirmam que, se a mulher não optou pelo abortamento, quando essa prática é legalizada, decidindo assim manter seu filho na expectativa de nascimento, a partir dessa decisão ela não pode deixar de colaborar, por todos os meios, em benefício da vida ou da qualidade da vida desse novo ser. A não ser que a intervenção fetal indicada seja considerada de risco mais que mínimo. Nesses casos, tanto deve ser avaliado o risco sobre o feto, como sobre a gestante. A partir do momento em que a mulher abre mão do aborto, como prática consentida, ela começa a assumir mais deveres com o feto.
Dessa forma, se o diagnóstico pré-natal confirmar uma perturbação com possibilidades reais de tratamento, com possível melhoria de vida, através de uma técnica de comprovado resultado e de risco mínimo para a gestante, a recusa maternal envolveria dano passível de ser evitado e, portanto, estaria sujeita à sanção no momento específico da omissão ou depois do nascimento da criança. Muitos acham que esse poder já estaria inserido nos direitos do Estado, porque os benefícios em favor das pessoas justificam aquela intromissão. Todos acham, contudo, que o argumento moral de recusa da gestante só estaria justificado se os meios de intervenção fetal lhe proporcionasse um risco mais que certo de dano.
Alguns admitem a autonomia absoluta da gestante sobre seu corpo e sobre o feto, considerando-o pars vicerum matris. Essa corrente, no entanto, tem angariado poucos adeptos. Entre nós não existe ainda uma jurisprudência firmada sobre o assunto, sendo esporádicas as sìtuações em que se demanda sobre esse fato. O entendimento de alguns magistrados é o de que a mãe tem obrigação moral e legal com seu futuro filho, pois além dela omitir-se de sua função social e do seu relevante papel de mãe, sua recusa não encontra amparo nas garantias constitucionais dos direitos de privacidade. Esse dever da mãe é o mesmo que ela tem com uma criança nascida. O certo será conciliar sempre os direitos do feto, como expectativa de significado valor, com a autonomia maternal.
e) A obtenção de um consentimento esclarecido. Admite-se que o consentimento do paciente ou de seus responsáveis legais representa uma delegação de poderes para aquilo que lhes é útil e necessário. O vinculo estabelecido entre o médico e o paciente apenas leva a crer um contrato de prestação de serviços, entendendo-se que houve uma concessão de poderes para o que ordinariamente deve ser feito. Todavia, há de se compreender que isso não significa poderes absolutos nem isenção da responsabilidade profissional pelos resultados danosos qualificados como imperícia, imprudência ou negligência. Cabe ao médico esclarecer seu cliente do maior ou menor risco de um tratamento ou de uma prática propedêutica, nostrando-lhe as vantagens e as desvantagens que dessa intervenção ou diligéncia venham ocorrer, mesmo sabendo-se que nos momentos mais cruciais não há tempo para alguns esclarecimentos.
Isso, também, não exclui do médico um esclarecimento isento do caráter estritamente técnico em torno de detalhes de uma doença ou de uma conduta. A linguagem própria dos técnicos deve ser simplificada para o paciente ou seus responsáveis legais, senão a tendência será a interpretação confusa e arriscada. Exige-se apenas uma explicação simples, objetiva e honesta, permitindo-lhes uma tomada de posição que satisfaça seu entendimento.
Sabe-se, hoje, mais do que nunca, que a ausência de informações suficientes a uma mãe sobre o filho que vai nascer ou sobre si mesma, dos riscos e resultados, pode caracterizar infração ética ou legal. Assim, a questão do consentimento não está só na anuência de quem é capaz, mas no consentimento esclarecido. Se o paciente não sabe ou não pode falar por si, estará o médico na obrigação de conseguir o consentimento dos seus responsáveis legais, não esquecendo de que nem todo parentesco qualifica um individuo como representante legal nem tudo que se permite é legitimo. Há situações tão delicadas que, mesmo existindo um consentimento tácito ou expresso do paciente ou de quem o represente, não se justifica a intervenção, nem tal permissão tem valor, pois a norma ética ou jurídica pode se impor a essa concessão não autorizando tal prática. Quem legitima o ato médico não é só a sua permissão, mas a sua indiscutível necessidade. Por outro lado, há situações tão delicadas e tão emergenciais que, mesmo a recusa mais consciente e obstinada torna-se irrelevante, pois o médico está autorizado a agir ainda que contrário a essa vontade, pois há um bem mais elevado e mais irrecusável que deve ser prontamente protegido: a vida do paciente.
f) A conduta materna durante a gravidez. A necessidade e o desejo cada vez maior de se evitar o nascimento de crianças doentes ou com desordens embriológicas, certamente vai levantar muitas discussões a respeito da liberdade reprodutiva da mulher e da conduta dos médicos que a assiste. A verdade é que a maioria das mulheres em estágio de risco gestacional aceita bem as determinações sobre o tratamento e contribuem nos procedimentos que possam ajudar a prevenir ou minorar as conseqüências das fetopatias. Elas se abstêm de certos comportamentos de risco e seguem a orientação médica, ou permitem quase todas as intervenções destinadas a melhorar o nível de vìda e de saúde do filho que vai nascer.
O mais difícil nesta questão é quando a paciente ou seus familiares não aceitam ou não permitem continuar um tratamento ou fazer os exames necessários, por considerá-los fúteis ou imprestáveis. Em tais eventualidades deve o médico esgotar todos os meios para conquistar a adesão deles, só podendo intervir diante do iminente perigo de vida. O conceito de futilidade médica começa a ganhar espaço na discussão dos problemas de bioética, principalmente nos casos de prolongamento da vida de pacientes presos a quadros irreversíveis. Essa é uma questão muito delicada. Por isso, é preciso que se faça uma análise bem cuidadosa e só se considere tratamento fútil aquele que não tem objetivo definido, que não é suficiente ou capaz de oferecer esperanças de uma qualidade de vida mínima e que não permite qualquer eventualidade de sobrevida.
Ao lado disso, não são todas as mulheres que estão conscientes para esses fatos ou alertadas dos perigos das posturas consideradas inadequadas. Algumas delas não alcançam o significado das recomendações nem a importância dos tratamentos capazes de influir positivamente para evitar ou diminuir os defeitos congênitos. Outras vezes, mesmo diante de uma boa vontade, elas carecem de orientação pré-natal e de opções de tratamento que certamente evitariam tais defeitos. Por fim, há mulheres que ignoram o diagnóstico da desordem fetal ou simplesmente recusam o tratamento, originando assim crianças doentes ao invés de crianças saudáveis.
Como avaliar cada recusa? Qual deveria ser a previdência do poder público em relação a essa conduta e qual seria a posição do médico nessas situações? Uma coisa ninguém discorda: a necessidade que tem o poder público de u sar de todos os meios ao seu alcance no sentido de propor uma política de prevenção de danos pré-natais, mesmo sabendose das dificuldades de uma intervenção em certos contextos, como diante da nocividade do uso do álcool e de outros tóxicos, da presença de certas doenças sexualmente transmissíveis e da insalubridade dos locais de trabalho capazes de comprometer a qualidade da vida fetal. Em alguns paises já se cogita de sanções, depois do nascimento, às mulheres pela recusa culpável causadora de sérios danos ao filho. O nascimento dessa criança defeituosa só não seria punido se não existisse lei contra o aborto após a viabilidade do feto.
Desse modo, na medida em que novas formas de dano pré-natais tornam-se conhecidas, avaliam-se na sociedade os tipos de pressão capazes de mudar o comportamento da mulher grávida e os motivos relevantes para que os médicos as orientem sobre esse ou aquele tipo de comportamento de risco. Esforços públicos para modificar esses comportamentos são às vezes controversos, por muitos motivos, entre eles o de que as mulheres não podem responder sobre falhas no nascimento de filhos defeituosos. Aliados a tal concepção, ainda há grupos organizados e mais exaltados em favor das liberdades feministas que se insurgem contra o controle público dos corpos das mulheres grávidas, mesmo para prevenção de crianças malformadas, porque receiam qualquer tipo de controle, por considerarem uma intervenção indébita e violenta sobre os direitos da mulher, por temerem a possibilidade da criação de um status legal para o feto e por se verem ameaçados nos seus direitos de abortar.
g) As obrigações da sociedade com a criança que vai nascer. As obrigações da sociedade para com uma criança que ainda vai nascer é também uma questão muito complexa e está apenas no inicio de uma longa discussão. Por isso mesmo, não existe uma definição mais precisa capaz de apontar uma solução mais consensual. Essas obrigações pré-natais são, portanto, muito confusas, tanto pelo caráter intimo das primeiras fases da gestação, como pela inexistência de um instituto jurídico que defina e proteja, nesse particular, o feto no álveo materno.
No momento em que a sociedade decidir de vez essas obrigações para proteger a criança não nascida, com certeza vai existir uma definição de limites da conduta da futura mãe, os quais não seriam impostos se ela não estivesse grávida ou se optasse pela pratica do aborto descriminalizado. Mesmo assim, os privilégios da mãe na proteção da sua integridade corporal seriam sempre maiores que as obrigações que ela admite ter em favor do bem-estar fetal.
No entanto, a sociedade pode exigir da mulher que decidiu ter o filho, uma obrigação a partir da opção da escolha, pois se todas as pessoas têm obrigação de não prejudicar as crianças depois que nascem, devem também, pelos mesmos princípios éticos, absterem-se de prejudicar as crianças que ainda vão nascer. Em suma, a mulher que livremente decidir levar a termo o filho que ela alberga em seu ventre, tem o dever de prevenir dano quando ela pode normalmente fazê-lo. A idade da gestação não é motivo para se deixar de implementar políticas no sentido de evitar danos, melhorando as condições de vida e de saúde em favor da criança esperada.
É muito importante também salientar que os direitos dos fetos não sofrerem danos no pré-natal não são muito diferentes dos direitos que eles têm de completar seu estágio uterino. Parece-nos que os deveres para com os fetos, em si mesmo, e os deveres para com eles porque vão nascer não são diferentes. Protegê-los contra danos no pré-natal de forma alguma interfere nas razões de completar a gravidez, porque a questão levantada não é se o feto tem ou não o direito de ir a termo, mas no seu direito de nascer em condições compatíveis de normalidade.
A tendência atual dos médicos é falar sempre dos fetos como paciente, sem discriminação, sem limitação de qualquer natureza. A sociedade deve entender, pelo mesmo raciocínio, que um feto que está indo a termo é um paciente e um ser humano pela expectativa que nascerá vivo e será, por isso, uma pessoa de direitos. E não por causa dos médicos terem o dever de trazer todos os fetos a termo, às vezes até sem considerar os desejos da mãe. A dúvida está num fato só: saber se nos casos em que a sociedade permite o aborto, os fetos são ou não considerados pacientes.
A sociedade também faz uma análise diferente quando a criança não deve nascer por causas genéticas ou por outros fatores intrauterinos evitáveis em estágios mais adiantados da gravidez. A posição mais intolerante da sociedade é quando uma criança portadora de desordens genéticas ou outras perturbações, mesmo evitáveis, vem a termo. O nascimento darse-á porque as pessoas não têm outra alternativa, a não ser conviver com uma criança de vida mais precária. Parte dessa sociedade vai constranger as pessoas que tiveram de apoiar o nascimento das crianças que agora estão com defeito. Destarte, teremos a seguinte indagação: a sociedade tem o direito de interferir na concepção ou no nascimento de uma criança com possibilidade de defeito, como forma de se evitar custos no sentido de beneficiar outras pessoas? Qualquer que seja a resposta, toda medida política coercitiva nesse particular é mais irrisória do que a consciência de cada um em relação ao dano evitável.
Várias opções políticas são elencadas para influenciar o comportamento de uma mulher durante a gravidez, no propósito de favorecer o bem-estar do feto. Essas polïticas variam desde a concordância voluntária através da educação e do acesso aos serviços pré-natais até as sanções e pressões sobre a gestante. Insistir na aquiescência espontânea é a mais fundamentada das polïticas porque respeita os direitos das liberdades civis e a privacidade da mulher e ainda porque é a mais possível de ser efetivada. Se elas não quiserem evitar uma conduta danosa, muitas mulheres, no futuro, vão optar por um aborto ao invés de trazer um feto defeituoso à vida. A primeira medida a ser tomada é garantir que elas sejam informadas adequadamente e que elas tenham acesso aos meios de tratamento capazes de evitar dano ao feto. Uma sociedade verdadeiramente preocupada em evitar danos pré-natais nas crianças pode fazer muito no sentido da educação e da implementação dos serviços para prevenir que tais danos ocorram. Uma postura que deve estar sempre presente no papel do médico é estimular o tratamento voluntário. No entanto, sempre existirão mulheres que não concordam ou que não alcançam o valor de uma conduta adequada e terminarão por contribuir pa ra os danos de um feto que poderia ter nascido saudável. De veria o Estado ir além da educação e punir o comportamento maternal irresponsável durante a gravidez, impondo sanções civis ou criminais quando um dano real à criança venha ocorrer? Deveria o Estado prevenir o dano antes que ele ocorra, punindo a mulher ou obrigando-a ao tratamento? Essas são indagações para as quais não se tem ainda uma resposta que possa favorecer, ao mesmo tempo, os direitos da mãe, a necessidade da futura criança e os interesses da coletividade.
3. Conclusões
Após todas essas considerações, entendemos que, se as técnicas e os recursos utilizados em torno do feto não alcançarem o sentido de proteção e de melhoria da qualidade de vida da futura criança que vai nascer, tudo isso não passa de uma coisa pobre e insignificante.
Fica muito difícil justificar uma evolução tão fantástica da tecnologia e das ciências médicas que não esteja seriamente comprometida com a melhoria de vida e com o bem-estar das pessoas, mas que se incline deliberadamente numa forma pratica e maìs cômoda de eliminá-las.
No uso de cada procedimento diagnóstico invasivo, não se deve apenas avaliar a correlação entre o risco e o benefício, mas saber a utilidade desse recurso que se vai aplicar. Muitos desses meios diagnósticos são de resulta do altamente confiáveis e outros, malgrado todo empenho, como as técnicas para assinalar erros inatos do metabolismo, ainda se mostram de baixa sensibilidade e pouca especificidade e, por isso, face seu estágio experimental, não estão livres de erro.
Qualquer que seja o grau de malformação ou de desordem genética congênitas diagnosticadas no feto, o conhecimento desses resultados deve ser passado aos pais ou familiares de forma clara, objetiva e em linguagem simples, sobre o curso, diagnóstico e prognóstico, de forma que essa informação não se transforme num relato frio e brutal, mas num tipo de relação respeitosa e sensível, capaz de compreender e ajudar nos problemas derivados de uma situação dessa natureza.
O Código Penal brasileiro em vigor não atende ainda à interrupção da gravidez frente um diagnóstico de malformação fetal. Todavia, alguns juizes, em casos isolados, já autorizaram o abortamento em casos de fetos anencefálicos, sem julgar essa prática como indicação eugenésica, mas, tão-só, levando em conta a existência de um feto cientificamente sem vida, incapaz de existir por si só.
Por fim, o que para muitos constitui a questão fundamental: o embrião humano é "ser humano" ou "coisa", e, como tal, vem a ser protegido pelo Direito? Em primeiro lugar, não se diga que esse assunto é de pura especulação, pois ele transcende ao seu interesse meramente teórico. Se a vida humana se inicia na fecundação, na nidação, na formação do córtex cerebral ou, até, no parto, isso é uma questão de princípios e de interesses, cabendo apenas aos que admitem ser nos últimos estágios, como por exemplo, na nidação, explicarem, na fase anterior, que tipo de vida é essa. A vida humana tem algo muito forte de ideológico e, portanto, não pode ter seus limites em simples fases de estruturas celulares. Se for ou não pessoa o embrião humano, parece-nos mais uma discussão de ordem jurídico-civil, que não adota os fundamentos da biologia, embora seja difícil entender entre indivíduos da mesma espécie, uns como seres humanos pessoas e outros como seres humanos não-pessoas. O que se quer chegar, pelo menos, é à sua condição de ser humano, pelo que isso significa, nesta hora de tanto tumulto e de tanta inquietação e neste exato momento em que o sentimento se distancìa mais e mais, e quando a indiferença parece ter tomado conta do mundo.
4. Bibliografia
1. Barbosa de Deus B, Dallari SG. Bioética e direito. Bioética, 1:91-5, 1993.
2. Clotet J. Reconhecimento e institucionalização da autonomia do paciente: um estudo. Bioética, 1:157-63, 1993.
3. Ferraz S. Manipulação biológica e princípios constitucionais: uma introdução. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 214, 1991.
4. França, GV. Comentários ao Código de Ética Médica. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan S/A., 175, 1994.
5. França, GV. Direito médico, 5ª edição. São Paulo: Fundo Editorial Byk, 527, 1992.
6. França, GV. Medicina legal, 3á edição. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan S/A., 422, 1991.
7. Haering B. Manipulação biológica. São Paulo: Edições Paulinas, 253, 1977.
8. Handyside, AH e Col. Biopsy of human preimplantation embrios and sexing by DNA amplification. Lancet, 1:347-54, 1989.
Incluído em 05/11/2001 01:34:06 - Alterado em 20/06/2022 13:14:41




 Índice
Índice![]()


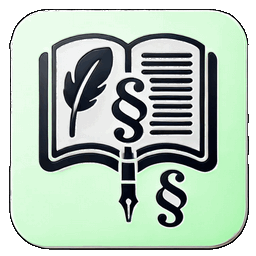 Artigos
Artigos![]()


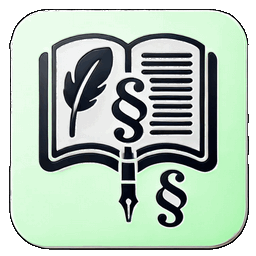 Artigos sobre reprodução e aborto
Artigos sobre reprodução e aborto![]()

 Intervenções fetais - Uma visão Bioética
Intervenções fetais - Uma visão Bioética





![]()








 Fale Conosco
Fale Conosco